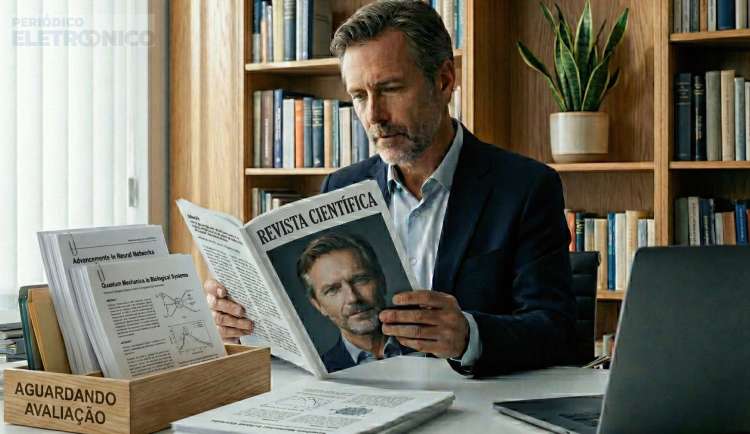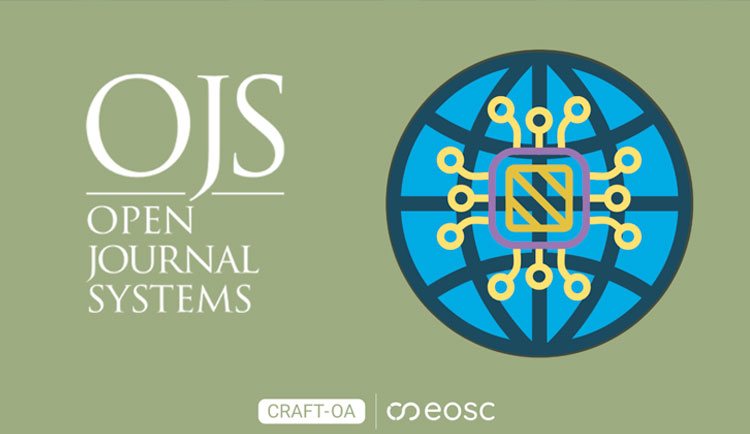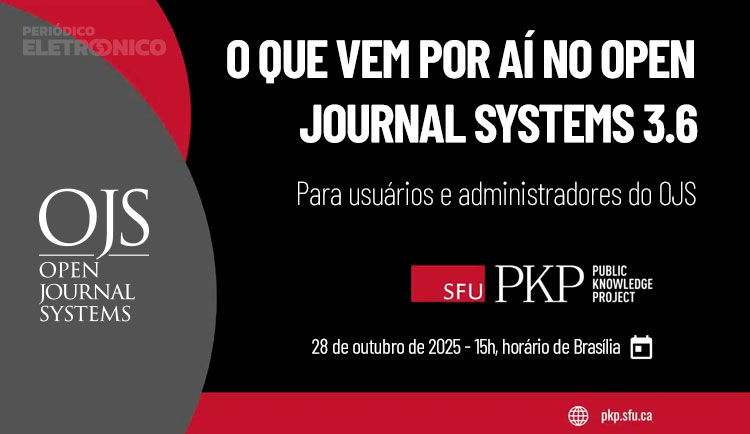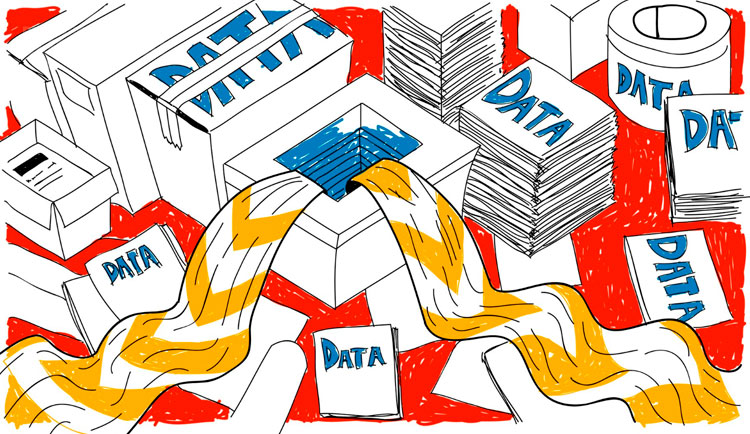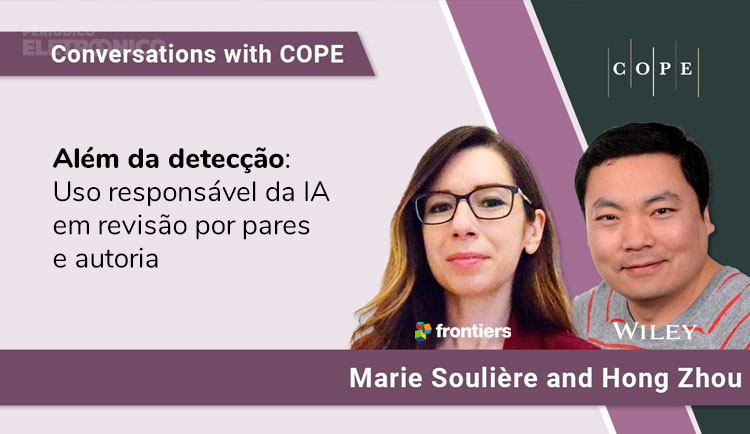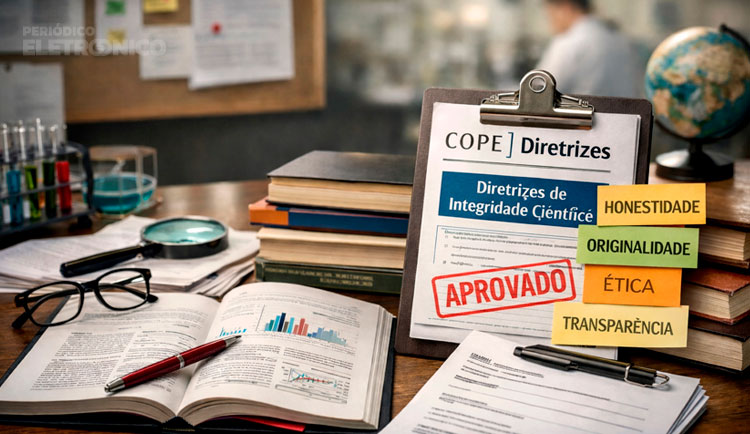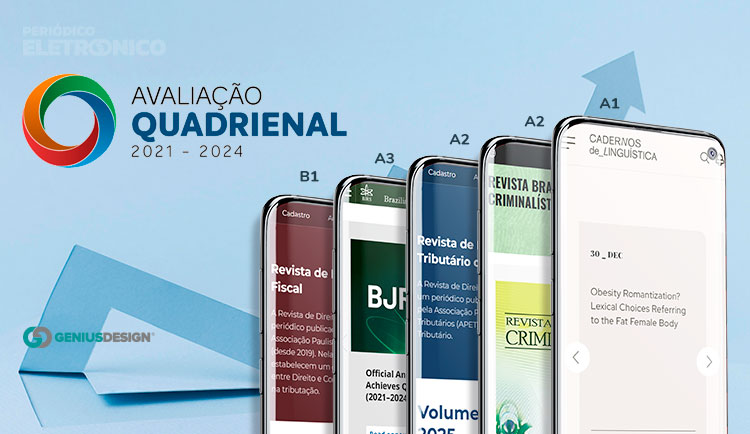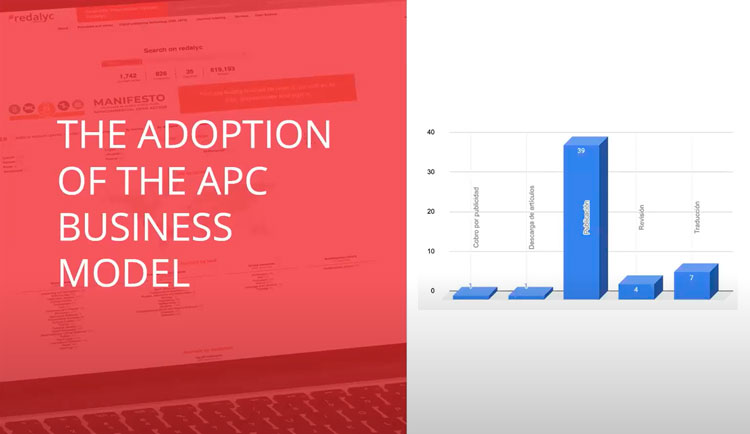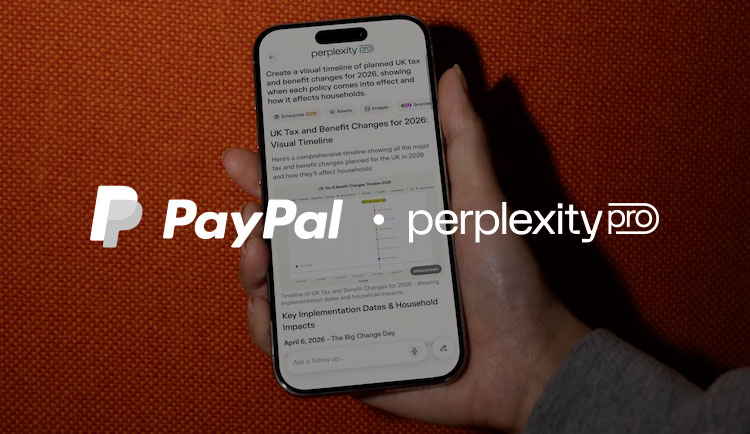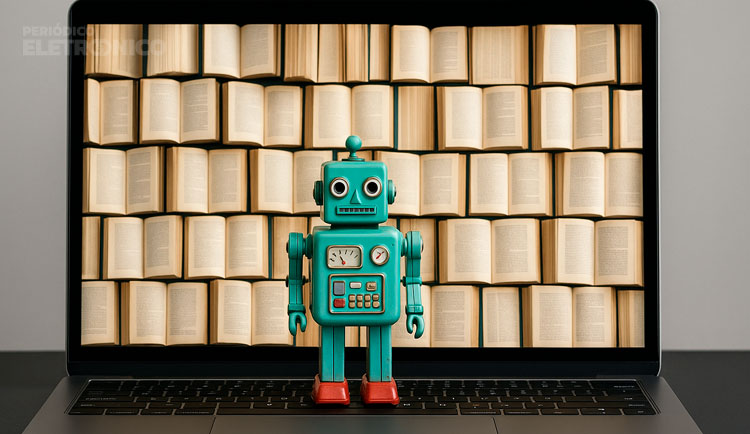A gigante de tecnologia Google ocupa um espaço onipresente no nosso cotidiano: domina a busca na web, produz o navegador mais usado, comanda o ecossistema Android, organiza rotinas com Gmail, Drive e Workspace, distribui vídeos no YouTube, guia trajetos no Maps, traduz idiomas no Translate, armazena memórias no Photos, investe pesado em IA generativa com o Gemini e ainda opera linhas de hardware como Pixel e Nest. É um portfólio vasto, que se expande e se reinventa a cada ciclo.
Ao mesmo tempo em que muitas ferramentas são lançadas, outras tantas são descontinuadas. Casos emblemáticos incluem Google Reader, Inbox by Gmail, Stadia, Google Podcasts, Picasa, Google+, Hangouts e iGoogle — serviços úteis e, em vários casos, queridos por comunidades inteiras, mas ainda assim encerrados quando saíram do eixo estratégico da companhia. Diante desse histórico, estaria o Google Scholar livre do risco de ser simplesmente desligado?
É exatamente essa inquietação que move a tese de Hannah Shelley, coordenadora da biblioteca da Australian Catholic University (ACU), em “Google Scholar Is Doomed” ("O Google Acadêmico está condenado", tradução livre): a academia passou a depender criticamente de um serviço gratuito, sem garantias públicas de continuidade, que concentra perfis, citações e métricas usadas em avaliações e visibilidade científica. A questão, portanto, não é prever o dia do fim, mas encarar a vulnerabilidade estrutural criada por essa dependência e discutir como reduzir riscos antes que uma decisão corporativa torne o problema incontornável.
O alerta central
Shelley organiza seu argumento em três frentes: o passado de “cemitério de produtos” da Google, a ausência de um modelo de negócios claro para o Scholar e a competição assimétrica com ferramentas de IA que oferecem síntese, descoberta e explicação — justamente aquilo que, para estudantes e muitos pesquisadores, resolve “o trabalho” com menos atrito. Quando somados, esses vetores desenham um cenário de risco sistêmico: dependência extrema de um serviço gratuito, sem compromisso público de continuidade, em um momento de reorientação estratégica rumo a produtos impulsionados por IA.
Um histórico que preocupa
O “Google Graveyard” lista centenas de apps, serviços e dispositivos aposentados — inclusive produtos com bases fiéis, como Google Reader e Google Podcasts. A mensagem implícita é simples: utilidade social e adoção não blindam nada do corte se não houver alinhamento estratégico. Transferido para o contexto acadêmico, o recado é incômodo: se até linhas maduras foram encerradas, por que o Scholar — que não veicula anúncios nem cobra — seria estruturalmente seguro?
A peça central do raciocínio está na economia política do produto. Scholar não monetiza diretamente; ao mesmo tempo, vive dentro de uma empresa cujo core são receitas publicitárias em busca geral — um território que, nos últimos anos, sofre com degradação de qualidade percebida e com o ruído causado por conteúdos gerados por IA. Em 2024, a participação global do Google caiu abaixo de 90% por três meses seguidos, e sua funcionalidade AI Overviews virou alvo de acusações de amplificar spam. Esses sinais importam porque, numa organização orientada a prioridades bilionárias, um serviço “centro de custo” de nicho fica mais vulnerável.
Shelley observa que quem trabalha sob deadline tende a optar pelo caminho mais simples: ferramentas de IA que buscam, organizam, sugerem leitura correlata e explicam. Isso desloca valor da busca acadêmica tradicional para experiências conversacionais. Some-se a tendência de jovens usarem redes como TikTok como mecanismo de busca e o Scholar deixa de ser a barreira competitiva que já foi. O argumento não é que a IA entregue rigor; é que ela entrega “suficiente” para muitos fluxos cotidianos — e isso basta para capturar uso e atenção.
O precedente da Microsoft
Não é só teoria: quando a Microsoft encerrou o Microsoft Academic (e seu dataset aberto) em 2021, o ecossistema sentiu o abalo. OpenAlex e The Lens surgiram como substitutos, mas especialistas estimaram anos até atingir cobertura e qualidade comparáveis. Ferramentas comerciais e acadêmicas quebraram integrações; workflows foram reescritos às pressas. Se o “segundo maior” motor acadêmico pôde sumir, por que o maior — mantido por uma empresa privada, sem contrato com a academia — não poderia?
Shelley admite: há razões para o Scholar persistir. Universidades e agências tornaram invisível o pesquisador sem perfil, citações e indicadores que o Scholar facilita; isso empurra a comunidade para dentro do ecossistema Google e, por extensão, para suas políticas de coleta e processamento de dados. Nessa chave, o Scholar não é só serviço: é ativo estratégico de marca, dados e controle de fluxos informacionais no campo científico — um exemplo do “plataformismo” que coordena a economia acadêmica via contagem de citações.
O gesto simbólico dos 20 anos
Em 2024, a Google celebrou os 20 anos do Scholar com posts e pequenos incrementos — como o Outline com IA no PDF Reader —, mas sem anunciar compromissos públicos de financiamento ou governança de longo prazo. Ao mesmo tempo, manteve a rotina anual do Scholar Metrics. São sinais de vida, não de perenidade contratual. A provocação de Shelley, então, é política: devemos depender estruturalmente de um serviço que pode desaparecer por decisão unilateral?
A autora arrisca uma previsão: em até cinco anos, o Scholar poderia ser descontinuado com 12 meses de aviso. Mesmo que não se concretize, o exercício é útil para testarmos a resiliência do sistema. O que acontece com avaliações, editais, relatórios CAPES/CNPq, guias de periódicos, páginas de docentes e repositórios quando milhões de links, perfis e métricas — hoje automatizados via Scholar — deixam de existir? Basta lembrar do que ocorreu após o fim do Microsoft Academic para calcular o tamanho do atrito.
O que editores e pesquisadores podem fazer agora
A força do texto de Shelley está menos na profecia e mais no convite à responsabilidade institucional.
Para editores:
- diversificar fontes de descoberta e indexação, integrando OpenAlex e The Lens nos fluxos editoriais;
- revisar guias de avaliação que tomam métricas do Scholar como proxy exclusivo de impacto;
- documentar, com transparência, fontes e critérios de indicadores em sites de periódicos.
Para pesquisadores e PPGs:
- padronizar ORCID e manter currículos institucionais atualizados, sem depender de perfis proprietários;
- mapear alternativas de descoberta e citação em bases como Dimensions, Scopus e Crossref;
- planejar contingências para espelhar perfis e listas de publicações em páginas institucionais.
Para bibliotecas:
- treinar para multicanais de busca;
- negociar com TI integrações que não tenham um único ponto de falha;
- fomentar letramento de métricas, contextualizando limites e vieses de contagens algorítmicas.
Nada disso exige abandonar o Scholar amanhã; exige, sim, parar de tratá-lo como infraestrutura pública garantida.
Reflexão final
Shelley cutuca uma ferida: confundimos “comodidade” com “compromisso público”. O Scholar é extraordinário como serviço de acesso e visibilidade, mas sua centralidade virou risco sistêmico. A pergunta que cabe à comunidade de publicação científica é menos “o Google vai matar o Scholar?” e mais “que garantias queremos — e como as construiremos — para que a comunicação científica não dependa da boa vontade de uma plataforma?” Preparar alternativas, estabelecer mínimos de governança e reduzir acoplamentos agora é o caminho para que, aconteça o que acontecer, a ciência siga encontrável, auditável e avaliada de modo plural.
Sobre a autora
Hannah Shelley é bibliotecária e Coordenadora de Biblioteca (Blacktown) na Australian Catholic University desde 2023, em Dharug Country, Sydney. Tem mestrado em Information Studies (Charles Sturt University) e escreve sobre interseções entre informação, tecnologia e bem-estar humano, com trabalhos e apresentações na área de serviços de pesquisa e desenho de experiências. Mantém um site autoral que espelha seus valores de acessibilidade, foco no usuário e independência digital.